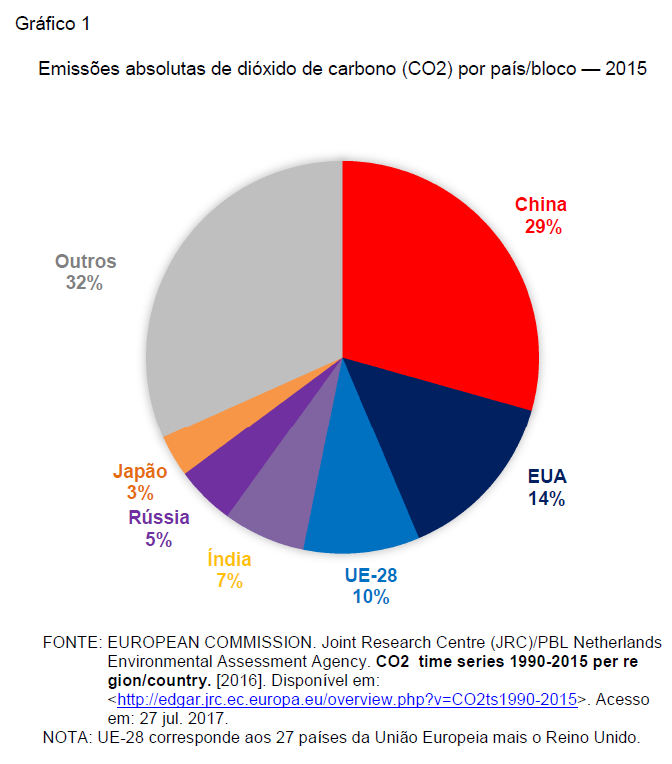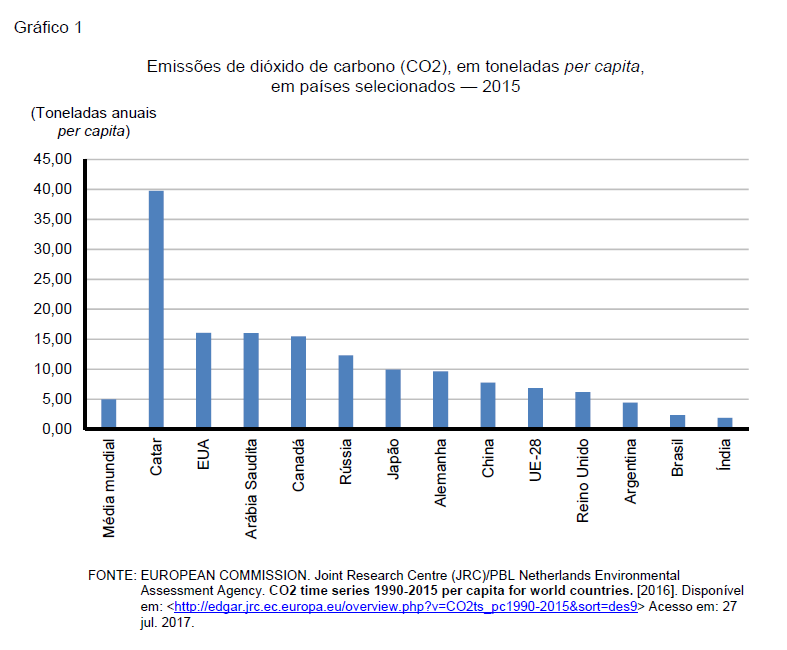Ao longo das últimas décadas, em particular, após a grande crise econômica mundial, no final da primeira década do século XXI, tem-se observado e discutido o fenômeno da deterioração das relações de trabalho, com particular interesse na União Europeia e nos Estados Unidos. Em 2013, a Revista Internacional do Trabalho, vinculada à Organização Internacional do Trabalho (OIT), dedicou uma edição inteira à identificação da situação das relações de trabalho no contexto europeu, com conclusões, em geral, pessimistas. Essa situação guarda semelhanças com o contexto dos Estados Unidos e mesmo de alguns países latino-americanos, inclusive o Brasil. É possível identificar uma correlação entre a globalização da economia, por um lado, e a deterioração das relações de trabalho, ao menos nas regiões mais desenvolvidas. Contudo, o que se passa em outras partes do mundo? Neste artigo, aborda-se a situação observada na Ásia Oriental, para onde se volta a atenção quanto às melhores práticas de políticas públicas, dada a rápida evolução recente das economias da região.
Antes da análise da indagação proposta, cabe ressalvar que os sistemas nacionais de proteção ao trabalhador encontram-se em uma situação mais favorável aos trabalhadores na Europa, na América do Norte e mesmo em alguns países mais industrializados da América Latina, em comparação com outras partes do mundo. No entanto, é necessário considerar não apenas a situação estática desses sistemas, mas também a tendência recente em ambos os grupos. Como a grande maioria dos estudos têm-se voltado para a investigação da problemática no continente europeu e na América Latina e identificado considerável piora nesse quesito, neste texto, enfoca-se a situação do trabalho na Ásia Oriental, com ênfase em três das economias emergentes mais representativas dessa região: China, Índia e Coreia do Sul.
O caso chinês parece bastante elucidativo. Não obstante o fato de as normas chinesas ainda permanecerem em um nível bastante inferior às de seus análogos na Europa quanto à renumeração e ao acesso a direitos básicos, como à aposentadoria, o Governo chinês tem-se movido no sentido de aprimorar a política trabalhista. A base da atual legislação trabalhista chinesa é relativamente recente (em vigor desde 1995), complementada pela Lei de Contratos Coletivos de Trabalho, de 2004. Como afirmam Wu e Sun (2014), vige um sistema liderado pelo Governo, que apresenta não apenas a atribuição de mediar e arbitrar conflitos entre trabalhadores e empregadores, mas também de impor condições e limites relativos a salários e horas trabalhadas, além de impelir as partes a negociarem, entre outros aspectos. Por um lado, a concessão de direitos pode ser entendida como uma resposta dos dirigentes nacionais às crescentes ondas de agitação de trabalhadores chineses em tempos recentes e ao aumento expressivo dos casos de disputas trabalhistas pelo País, iniciados em meados da década de 90. Os autores apontam que, em 1992, registraram-se 18.000 disputas trabalhistas, ao passo que, em 2008, esse número aumentou cerca de 90 vezes. A legislação trabalhista chinesa, além de ser mais restritiva em comparação a de seus equivalentes ocidentais, permanece assentada em uma lógica individualizada, em que são vedados o direito de greve e a criação de sindicatos independentes. Porém, como visto anteriormente nesta revista, a melhora relativa do bem-estar dos trabalhadores, mormente nas grandes cidades, pode ser entendida como parte dos desígnios do Partido Comunista da China de redirecionar o modelo econômico baseado nas exportações de bens industrializados para o desenvolvimento calcado no mercado interno, dada a permanente turbulência da economia mundial. A ampliação dos direitos trabalhistas, assim, apresenta uma relevante dimensão propositiva e, inclusive, estratégica.
A Índia, segundo país mais populoso do mundo após a própria China e com participação cada vez mais saliente na economia e na política global, apresenta um quadro significativamente distinto. Por um lado, o País contou com cerca de 84% de sua mão de obra em ocupações informais em 2012, de acordo com dados da OIT, um nível superior inclusive ao de outros países em desenvolvimento. Por outro lado, esse percentual tem-se reduzido ao longo das últimas décadas, ainda que de forma bastante lenta. No início da presente década, o Governo indiano promoveu mudanças, no sentido de garantir direitos trabalhistas, com enfoque em grupos específicos, como a criação da Lei Sobre Assédio Sexual de Mulheres no Trabalho, de 2013, e da Política Nacional Para Trabalhadores Domésticos, de 2011, como relata uma recente publicação do Programa de Trabalho Decente. Cabe ressalvar, entretanto, o avanço da percepção favorável à flexibilização das normas trabalhistas por parte do Governo de Narendra Modi.
Outro interessante caso regional é o da Coreia do Sul. Apesar do rápido avanço econômico nas últimas décadas, que lhe alçou à condição de “Tigre Asiático”, o País foi atingido pela grande crise global de 2008, depois de ter sido atingido, de forma ainda mais contundente, pela crise do Leste Asiático, em 1997. Durante a crise dos anos 90, o País viu-se em uma aguda crise de escassez de divisas externas que gerou impactos em seus indicadores macroeconômicos. Assim como fizeram outros países da região, o Governo sul-coreano solicitou resgate junto ao Fundo Monetário Internacional, o qual, por sua vez, condicionou a assistência a políticas fiscais, que impactaram fortemente as relações de trabalho. Após a taxa de desemprego aumentar rapidamente (de cerca de 2,5% no final de 1997 para 8,5% no final de 1998), o ajuste recessivo foi paulatinamente substituído por um enfoque diferenciado, denominado, à época, Grande Acordo Social Para a Superação da Crise Econômica. Essa política congregava tanto elementos pró-mercado como a ampliação da rede de seguridade social aos trabalhadores. No lado do capital, manteve a preocupação de estabilizar o nível de preços e salários e facilitou a execução de férias coletivas; no lado do trabalho, ativou a política de geração de empregos, a ampliação do seguro-desemprego e o empoderamento de sindicatos de trabalhadores. A manutenção dessa solução de meio-termo suavizou os danos causados pela crise global a partir da segunda metade de 2008, a ponto de a taxa de emprego sair praticamente ilesa durante todo o período. Na fase mais recente, têm ocorrido divergentes pressões políticas, ora por parte de grandes grupos empresariais, ora por parte de sindicatos, para alterar as normas trabalhistas vigentes. Em 2017, a ascensão do Partido Democrático, de centro-esquerda, encorajou os sindicatos a reivindicar políticas que combatam a elevada proporção de trabalhadores ocupados em meia-jornada e reduzam o número de horas trabalhadas, indicador que se encontrava entre as maiores médias da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
A partir da análise de três das maiores economias da região da Ásia Oriental, retoma-se a pergunta original deste texto. Esses casos permitem afirmar que, embora as leis trabalhistas nos três países permaneçam em patamares bastante inferiores aos da Europa e aos da América do Norte, não se verifica uma adesão clara à tendência de flexibilização das relações de trabalho nem significativas mudanças no conteúdo da própria legislação. O principal destaque, em termos legais, cabe à Índia, cujas inovações têm o potencial de melhorar a situação das mulheres no ambiente de trabalho. No entanto, é no aspecto das disputas políticas que se pode verificar ganhos relativos do conjunto dos trabalhadores. No caso sul-coreano, destacam-se importantes concessões ao conjunto dos trabalhadores, como a política de manutenção de empregos e o aumento do poder de barganha dos sindicatos. No caso chinês, as melhorias na situação dos trabalhadores respondem tanto aos temores de uma convulsão social generalizada como ao propósito de rever a inserção econômica do País, dependente das exportações de bens.
Cabe reforçar que não se verifica uma situação de bonança para os trabalhadores nesses três países. Em primeiro lugar, como visto, sua situação permanece altamente precária, sobretudo na Índia. Em segundo lugar, não há como afirmar que essa tendência de melhoria relativa permanecerá incólume, dado que o aumento do poder de barganha do conjunto dos trabalhadores pode levar à reação de setores empresariais nesses mesmos países. Já se nota semelhante movimentação nesse sentido, na Índia, onde as pressões por flexibilizações têm ganhado espaço nos debates públicos. Diante dessa breve exposição, é válido concluir que as relações de trabalho nas economias emergentes mais significativas da Ásia Oriental têm testemunhado um processo distinto dos da Europa, da América do Norte e mesmo de partes da América Latina. No entanto, é demasiado cedo indicar a permanência dessa tendência oriental sui generis em relação a essa temática.