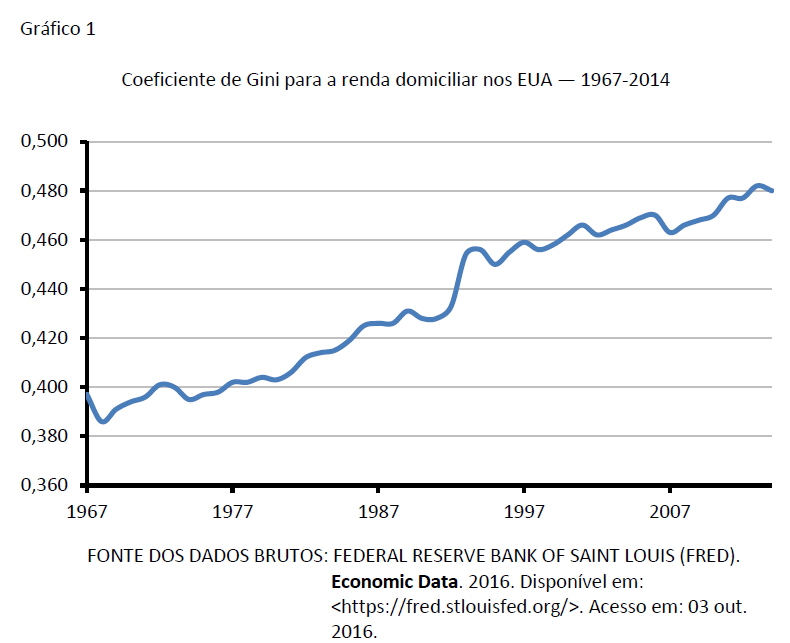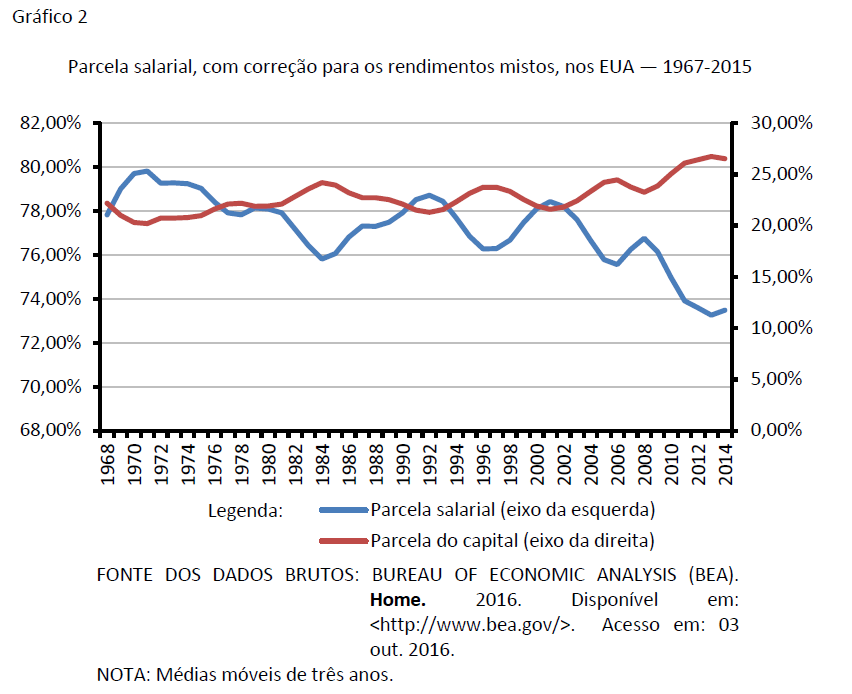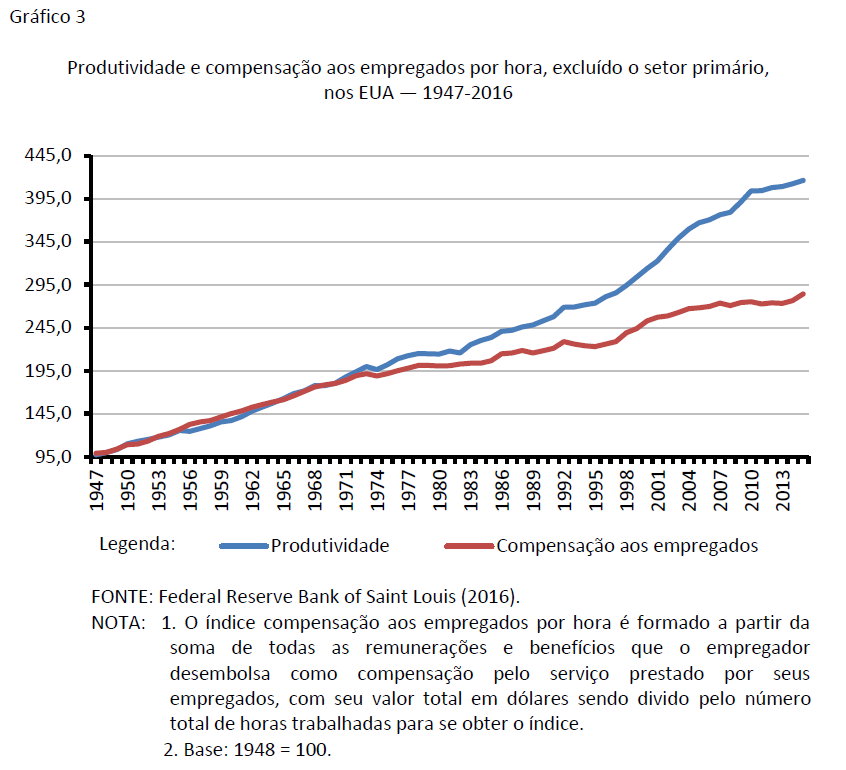Há muitos anos, a perspectiva da assinatura de um tratado comercial entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia (UE) vem ocupando largo espaço na agenda de políticos, empresários, pesquisadores e interessados em geral. De fato, a tentativa para a formalização de um tratado de livre-comércio (TLC) entre o Mercosul e a UE data de 1995, quando da assinatura do Acordo-Quadro de Cooperação Inter-Regional (AQCI). Desde então, apesar de sucessivas manifestações de interesse mútuo para a conclusão do acordo, as partes continuam sem chegar a um entendimento pleno sobre a questão, de modo que ainda permanecem dúvidas sobre as possibilidades concretas para a sua efetivação. Recentemente, com a eleição do liberal Mauricio Macri na Argentina, a posse de Michel Temer no Brasil e a suspensão da Venezuela no Mercosul, especulou-se que o acordo poderia estar mais próximo de ser concluído. Em nossa perspectiva, porém, perduram vários obstáculos para um desfecho positivo para aqueles favoráveis ao tratado.
Em linhas gerais, pode-se afirmar que as principais adversidades para a viabilização do projeto de livre-comércio entre o Mercosul e a UE partem de três vertentes: (a) há um significativo receio, por parte de produtores agrícolas europeus, de que o acordo signifique um prejuízo insuperável, na medida em que enxergam, na concorrência com os sul-americanos, um risco à sua própria existência no mercado; (b) em decorrência desse fato, alguns sul-americanos, ainda que defendam o acordo, duvidam de um desenlace positivo, por acreditarem que os europeus não abrirão mão de seu protecionismo agrícola; (c) por fim, na América do Sul, há grupos políticos que manifestam uma postura de oposição genérica à assinatura de um TLC com a União Europeia, por considerarem que esse processo representa uma capitulação dos interesses nacionais em relação aos dos europeus, inviabilizando uma estratégia autônoma de desenvolvimento regional.
Ao contrário do que frequentemente é sugerido por analistas e comentadores midiáticos, o maior obstáculo para a conclusão do acordo entre o Mercosul e a UE sempre foi a resistência dos produtores agrícolas europeus, temerosos da concorrência sul-americana. Desde os primeiros anos, os setores ligados à agricultura na Europa manifestaram sua preocupação de que esse tratado os impedisse de competir no mercado de alimentos. De fato, trata-se de produtores que já necessitam de proteção e subsídios no âmbito da União Europeia, por meio da Política Agrícola Comum (PAC), uma das principais da UE.
A PAC foi criada em 1962, tendo como objetivos principais assegurar o abastecimento regular de gêneros alimentícios, manter um equilíbrio entre a cidade e o campo, valorizar os recursos naturais, preservar o meio-ambiente e garantir aos agricultores um rendimento em conformidade com os seus desempenhos. Com seu advento, buscou-se consolidar um único grande mercado comum, dentro do qual os produtos agrícolas pudessem circular livremente, mas com a preferência pelos produtos produzidos na União Europeia. Embora, em tese, a PAC tenha os propósitos de aumentar a produtividade agrícola, salvaguardar fornecimentos regulares aos consumidores e assegurar a estabilização de preços razoáveis, seu objetivo central é proteger os agricultores europeus da concorrência internacional, até para garantir sua presença nas zonas rurais.
A importância do setor agropecuário para a União Europeia fica evidente quando se analisam alguns dados fornecidos pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat). Em 2016, por exemplo, havia 8,73 milhões de indivíduos empregados em atividades agropecuárias na zona rural, cifra que representava 3,99% do total dos empregados.1 Em termos absolutos, os países que concentravam a maior parte desse contingente eram a Romênia (19,37%), a Polônia (18,94%), a Itália (9,45%), a Espanha (8,71%) e a França (8,32%). Já em termos relativos ao total do emprego, os países que apresentavam o maior percentual de mão de obra empregada nessas atividades eram a Romênia (20,73%), a Grécia (11,74%), a Polônia (10,41%), a Lituânia (7,68%) e a Letônia (7,60%).
Ao se tratar da mão de obra empregada na agricultura, deve-se destacar o grande contingente que atua sob a forma de agricultura familiar. Dos 29 países do bloco, 15 empregavam mais de 80% da mão de obra nessa modalidade, sendo que, em apenas quatro, o setor da agricultura familiar correspondia a um montante inferior a 60% do total. Dessa forma, observa-se a importância desse segmento, que, sem as proteções hoje existentes na UE, poderia se tornar bastante vulnerável. É por essa razão, portanto, que os formuladores de políticas públicas da União Europeia dão centralidade à PAC, a fim de evitar eventuais impactos econômicos e sociais negativos que, naturalmente, implicariam o enfraquecimento do setor agrícola europeu.
Na medida em que, ao sul da América Latina, o setor primário se apresenta de modo muito mais competitivo em comparação com o da Europa, é do interesse dos países-membros do Mercosul a liberalização do mercado agrícola da União Europeia, dadas as inúmeras possibilidades de ganhos em termos de exportações para essa região. Por consequência, é justamente esse o ponto que representa o maior empecilho para a adoção de um acordo de livre-comércio entre os dois blocos, uma vez que os produtores agrícolas europeus fazem intensa pressão para que se mantenham as atuais barreiras. Essas, por sua vez, são justificadas porque são vistas como imprescindíveis para a sobrevivência da PAC, construída a tanto custo. Ademais, a União Europeia ainda padece dos significativos efeitos da crise econômico-financeira de 2008, que acarretou taxas de desemprego de dois dígitos em vários estados. Nessas circunstâncias, há um elevado temor de que a desestruturação do setor agrícola tenha um empacto negativo, em termos de perda de postos de trabalho e de renda, caso haja abertura dos mercados agrícolas.
Em face da postura europeia, cresceu o ceticismo entre os integrantes do Mercosul sobre a viabilidade do acordo. Nesse sentido, observa-se que o Paraguai e o Uruguai — em virtude da representatividade de seus setores agrícolas — sempre se mostraram mais favoráveis à implementação do tratado, ao passo que o Brasil e a Argentina, ainda que jamais tenham renunciado ao projeto, passaram a hesitar em relação aos eventuais benefícios advindos desse processo. Em geral, sobretudo em circuitos midiáticos, associa-se a resistência sul-americana à ascensão de governos progressistas na região, com destaque para os de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff no Brasil e os de Néstor e Cristina Kirchner na Argentina.2 Essa caracterização ideológica, no entanto, não representa fielmente a realidade das negociações, ainda que, de fato, guarde aspectos de realidade.
No tocante ao Brasil, por exemplo, já podem ser encontrados sinais de descrédito ainda no mandato de Fernando Henrique Cardoso (FHC), quando, em 2001, em um discurso na Assembleia Nacional Francesa, o então presidente afirmou desejar uma associação comercial entre o Mercosul e a União Europeia, mas ponderou os riscos de que as aspirações protecionistas suplantassem o espírito do livre-comércio. Com efeito, a exposição de FHC teve um forte componente simbólico, uma vez que a França já havia explicitado sua oposição ao acordo. Na perspectiva francesa, o TLC seria extremamente danoso para os seus agricultores e colocaria em risco o próprio sentido da PAC, o que não foi bem recebido pelo Governo brasileiro. Apesar de diferenças pontuais, a linha dada por FHC foi seguida durante a administração de Lula, que também enfatizou os benefícios do livre-comércio e apontou o protecionismo europeu como principal entrave para o avanço das negociações.
Em seguida, o Governo Dilma apresentou interesse em retomar as negociações do acordo, que haviam sido interrompidas entre 2004 e 2010. No entanto, apesar da realização de conferências para discutir a viabilidade do processo, as resistências em relação à abertura ao setor agrícola europeu permaneceram, o que obstaculizou um entendimento amplo sobre o tema. Apesar disso, sempre houve relutância entre alguns grupos do Partido dos Trabalhadores (PT) ao tratado, que era interpretado como um gesto de subserviência em relação aos grandes grupos capitalistas europeus, que impossibilitariam um projeto de desenvolvimento autônomo. Salienta-se, não obstante, que esses setores nunca foram majoritários no seio do Governo brasileiro, que jamais abandonou a retórica de defesa do livre-comércio e do benefício de um TLC com a União Europeia, desde que os europeus aceitassem liberalizar o seu mercado agrícola.
Já com relação à Argentina durante os Governos Kirchner, nota-se uma situação distinta. Ao invés de saudar os supostos benefícios do livre-comércio, os argentinos mostraram-se refratários ao acordo, por considerarem que atravancaria suas tentativas de reindustrialização e ainda colocaria em risco a sobrevivência de seus grupos industriais, como os setores de autopeças, de produtos químicos, de equipamentos elétricos e de bens de capital. Assim, além de demandar um prazo maior para a implementação do tratado, os argentinos exigiram a inclusão de uma ampla lista de setores industriais que ficariam à margem do acordo, o que foi considerado inaceitável pelos representantes europeus. Em virtude desse posicionamento, tornou-se majoritária a posição de que a Argentina de Cristina Kirchner era o verdadeiro obstáculo para que as partes chegassem a um entendimento, de modo que a conclusão de seu mandato e a posse de Macri seria o gatilho para a assinatura do acordo.
De fato, a transferência de governo de Cristina Kirchner para Mauricio Macri constitui um elemento favorável ao progresso das negociações entre o Mercosul e a União Europeia, na medida em que a lista de restrições do Governo argentino já não configura um obstáculo para a assinatura do tratado. Contudo, como já afirmado anteriormente, o maior óbice para que as conversas avancem é o protecionismo agrícola europeu, o qual dificilmente deixará de ser uma adversidade. Embora alguns analistas prefiram responsabilizar os governos dos Kirchner pela estagnação do processo, por meio de uma leitura atenta pode-se constatar que as negociações já se encontravam paralisadas desde o final da década de 90, anos antes da emergência de uma onda de governos progressistas na América do Sul.
1As séries de dados utilizadas foram a Total Employment — All Categories, que inclui o total de empregos segundo as categorias da Nomenclatura Geral das Atividades Econômicas das Comunidades Europeias (NACE) e a Total Agriculture Forest and Fishing Employment, que se refere ao total de empregados em atividades de agricultura, silvicultura e pesca. Ambas as séries incluem indivíduos entre 15 e 64 anos de idade.
2A Venezuela de Hugo Chávez e Nicolás Maduro não será estudada neste artigo porque só ingressou no Mercosul em 2012 e foi suspensa em 2016, de modo que não representa um embaraço para as negociações com a União Europeia.