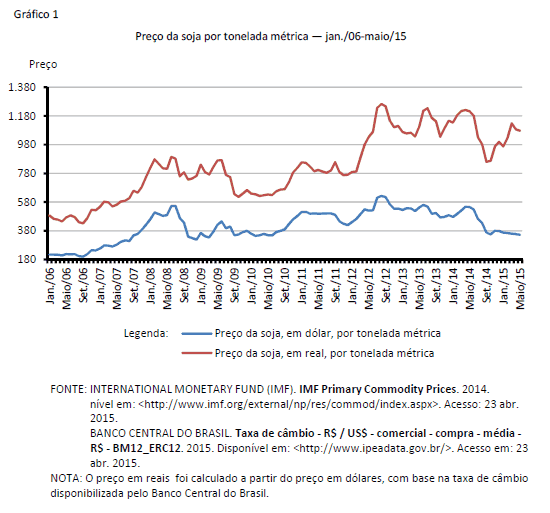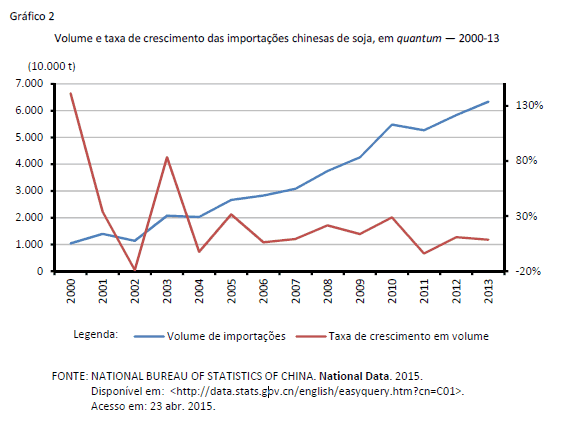A China vem passando por profundas transformações econômicas e sociais. A industrialização ocorrida nas últimas décadas, assim como a crescente urbanização, elevou a demanda por alimentos e vem forçando o País a preocupar-se cada vez mais com sua segurança alimentar. Devido à sua estrutura fundiária, grande parte do meio rural chinês ainda encontra dificuldades de expandir sua produção a partir dos ganhos de escala derivados de processos de modernização tecnológica. Essa realidade, associada a problemas ambientais, como a poluição e a escassez de água, tem levado a China a reformar suas políticas agrícolas, assim como a buscar alianças internacionais relacionadas ao agronegócio. Contudo, mesmo a um custo significativamente mais elevado, a China tem conseguido manter níveis adequados de autossuficiência alimentar, acima de 95%.1 Nesse contexto, vislumbram-se oportunidades para o Brasil que podem auxiliar a implementação de estratégias direcionadas a um comércio internacional qualificado e mais integrado às principais cadeias do agronegócio chinês.
É frequente a caracterização da China como um país de dimensões superlativas, e, no caso da agricultura, esse adjetivo também é válido. Entre as culturas que apresentam significância para o Brasil, o país asiático é o maior produtor mundial de arroz e fumo, o segundo maior produtor de trigo e milho e o quarto maior produtor de soja. No início dos anos 2000, o ingresso da China na Organização Mundial do Comércio (OMC) permitiu uma maior participação do País no comércio mundial de produtos agrícolas. Entre 2001 e 2008, as exportações e importações desses produtos cresceram, respectivamente, 170% e 225%.2 Durante esse período, buscando assegurar a disponibilidade interna de alimentos, a China inverteu o saldo de sua balança comercial, passando de exportadora à importadora de alimentos. Contudo, a despeito do crescimento da produção e da importação de alimentos, as mudanças de hábitos decorrentes da rápida urbanização impactaram negativamente o valor nutricional ingerido pelos agricultores chineses. Recente análise3 dos nutrientes consumidos pelas populações rurais de 30 regiões chinesas4, entre 1998 e 2010, concluiu que os gastos com bens não alimentícios e a manutenção da propriedade rural colaboraram para a redução do consumo de calorias e proteínas por essas populações.
Outro aspecto a sublinhar é que foi apenas em 2008 que a maioria da população mundial passou a viver no meio urbano. Essa mudança foi percebida há algumas décadas nos países industrializados, mas é uma realidade nova para alguns países em desenvolvimento. A população brasileira deixou de ser predominante rural em 1964, porém o mesmo ocorreu na China somente em 2011. Atualmente, 12 das 31 regiões da China ainda apresentam uma população predominantemente rural.5 O recente e intenso êxodo rural chinês provocou uma drenagem da força de trabalho para o setor industrial, fato que pode ter colaborado para uma relativa perda de vitalidade da agricultura no País.6 A migração do campo para a cidade acabou gerando problemas sociais urbanos e rurais complexos. No campo, por exemplo, é relatada a apreensão quanto à existência de um significativo número de idosos e crianças que não realizaram o êxodo rural, denominados pela literatura especializada como um contingente “deixado para trás”7. O governo chinês tem demonstrado preocupação em diminuir a diferença na renda per capita entre as populações urbanas e rurais também como forma de extenuar as forças motoras de um êxodo rural despropositado de efetivo sentido econômico e geográfico. Têm-se buscado também formas de elevar indiretamente a renda dos produtores agrícolas, principalmente através de serviços públicos relacionados à educação e à saúde, assim como investimentos na infraestrutura viária no meio rural.
Objetivos como o de diminuir as diferenças entre a vida no campo e na cidade, assim como a promoção da modernização da agricultura chinesa, são peças fundamentais do New Socialist Countryside8, implementado na primeira década dos anos 2000 pelo Governo Central chinês. Outro elemento que sugere haver uma grande preocupação com a situação do meio rural chinês é o conteúdo do 13.° Plano Quinquenal, lançado em março do ano passado e que guiará os rumos do país asiático até 2020. Gradualmente, a cada plano quinquenal, observam-se o abandono do padrão de crescimento econômico induzido pelas exportações e pautado na terra, na mão de obra e em investimentos e a adoção de um novo paradigma de desenvolvimento orientado ao consumo doméstico.
O atual plano quinquenal prevê uma série de instrumentos que buscam, além de elevar a renda no campo e modernizar a agricultura de maneira ecologicamente sustentável, a promoção de uma urbanização controlada de determinadas regiões, principalmente no noroeste, através da ampliação das permissões de residência urbana (hukou). O plano busca também dar novo sentido migratório para a já saturada costa leste, onde os migrantes geralmente trabalham em condições precárias e sem direitos sociais básicos. Esse fluxo demográfico permitirá que 100 milhões de chineses rurais se estabeleçam em cidades até 2020.9 É provável que esse fluxo migratório reproduza alguns padrões já verificados na contemporaneidade chinesa para esse tipo de transição, principalmente a ocidentalização de hábitos alimentares. Dessa forma, pode-se inferir que, durante esse período, haverá uma maior demanda por alimentos processados, carnes e lácteos, assim como uma maior procura por refeições realizadas fora dos domicílios.
A elevação da renda dos trabalhadores rurais através da adoção de políticas públicas, notadamente os subsídios agrícolas, pode afetar o preço internacional dos alimentos, sobretudo quando a politica é aplicada por um país grande como a China. Em 2000, os subsídios representavam 2,77% de toda receita agrícola chinesa, subindo para 21,34% em 2015.10 No entanto, a China já encontra resistências para a continuidade dessa política de subsídios. No dia 13 de setembro de 2016, os Estados Unidos notificaram a OMC de que iniciaram procedimentos de litígio contra a China relativamente às medidas de apoio interno ao setor agrícola. As medidas dizem respeito aos subsídios concedidos pela China, especialmente para o trigo, o arroz e o milho.11
Atualmente, os subsídios agrícolas assumem variadas formas, podendo ser concedidos aos produtores como contrapartida da produção agropecuária ou como forma de garantia de uma renda agrícola básica, independentemente da produção realizada. Quando, por exemplo, um país garante a compra de parcela da produção e fixa preços mínimos, dependendo do tamanho da produção do país, essa política pode gerar uma série de distorções no comércio internacional e na geografia mundial da agricultura. Em razão desse tipo de política distorciva ao comércio, terras menos férteis podem passar a ser utilizadas, fato que elevaria, mais que proporcionalmente, a demanda mundial por fertilizantes e agroquímicos. Estudos têm mostrado que o comércio internacional de alimentos deve considerar, além dos valores monetários, a quantidade de terra e água implícita nessas transações. Argumenta-se que uma agricultura efetivamente globalizada otimizaria o uso dos recursos naturais no mundo.12
No caso da China, as políticas de preços mínimos e compras governamentais têm gerado problemas para a administração central do País. Além dos frequentes questionamentos quanto à qualidade de seus estoques, é latente a dificuldade administrativa de armazenar quantidades cada vez maiores de grãos. No caso do milho, por exemplo, o estoque equipara-se à produção anual brasileira. Dado o gigantismo relacionado a quase tudo na China, esse problema, aparentemente restrito ao País, tem gerado incertezas quanto às reais necessidades alimentícias chinesas que se refletem em volatilidades nos preços internacionais e pressões sobre as fronteiras agrícolas de seus parceiros comerciais.
À guisa de conclusão, destaca-se que a magnitude e o rápido crescimento do mercado chinês já constituem razão suficiente para os setores público e privado brasileiros, especialmente os relacionados ao agronegócio, permanecerem atentos à realidade econômica e social da China. Esse país tem demonstrado competência em sua tarefa de garantir segurança alimentar e bons níveis de autossuficiência ao longo dos últimos anos. O Brasil, parceiro comercial indispensável para a China, precisa ter profundo conhecimento da realidade rural do país asiático, pois é bastante provável que as melhores oportunidades emergirão a partir de falhas nos planos chineses para esse setor. A China, cuidadosa e pragmática em suas decisões, tem procurado assegurar que o Brasil tenha condições de permanecer provendo sua cota necessária para a segurança alimentar chinesa. É o que sugerem, por exemplo, os recentes investimentos no Brasil da estatal chinesa de alimentos Cofco. Protocolos de intenção de investimentos na infraestrutura brasileira também denotam a preocupação chinesa com os requisitos brasileiros para continuar sendo um parceiro indispensável e estratégico.
No que diz respeito aos subsídios, é provável que a China seja forçada a realocá-los de maneira a enquadrá-los dentro da chamada “Caixa Verde”, classificação da OMC para as medidas que geram impactos mínimos nos preços e no comércio internacional. A União Europeia e os Estados Unidos levaram muitos anos para realizar a adaptação de seus subsídios dentro da Caixa Verde. O Brasil, país com histórico protagonismo na OMC, mesmo contrário à política de subsídios, tem potencial para apresentar-se como aliado chinês nesse quesito, principalmente devido às semelhanças entre a pobreza rural chinesa e a brasileira. Portanto, toda forma de relacionamento de alto nível, como o grupo do BRICS — Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul —, deve ser utilizada com sagacidade pelo Brasil. É pouco provável que a China formalize algum tipo de ruptura com as regras da OMC, mas é possível que ela precise de parceiros fortes para que as negociações agrícolas nessa instituição não a forcem a absorver constrangimentos externos indesejáveis para o seu plano doméstico.
Outra possível brecha que pode abrir-se para o agronegócio brasileiro está relacionada aos custos inerentes à produção agrícola ecologicamente sustentável e de baixo carbono proposta pelo atual plano quinquenal chinês. A expansão agrícola chinesa necessária para atender sua demanda crescente, assim como as mudanças de hábitos alimentares oriundas de processos de urbanização e elevação de renda, exigirá ainda mais de seus escassos recursos naturais, notadamente terra arável e água. O Brasil tem condições de produzir essa cota adicional de alimentos para o povo chinês a um custo ambiental significativamente menor.
1FIGUEIREDO, E. V. C; CONTINI, E. China gigante também na agricultura. Revista de Política Agrícola, n. 2, p. 5 ‑30, abr./jun. 2013.
2CARTER, C. A.; ZHONG, F.; ZHU, J.. Advances in Chinese agriculture and its global Implications.
Applied Economic Perspectives and Policy, v. 34, n. 1, p. 1-36, 2012.
3XU, Z.; ZHANG, W., Commodification and westernization: explaining declining nutritional intake in contemporary rural China. Journal of Agrarian Change, v. 15, p. 433–453, 2015.
4Províncias, regiões autônomas e municípios.
5CHINA STATISTICAL YEARBOOK. Proportion of urban population at year-end by region. [2015]. Disponível em: <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/html/EN0206.jpg>. Acesso em: 2 dez. 2016.
6ZHANG, Q. F.; OYA, C.; YE, J.. Bringing agriculture back in: the central place of agrarian change in rural China studies. Journal of Agrarian Change, v. 15, p. 299–313, 2015.
7Tradução livre do termo em inglês “left behind”.
8AHLERS, A. L.; SCHUBERT, G.. Building a new socialist countryside — only a political slogan? Journal of Current Chinese Affairs, v. 38, n. 4, 2009.
9NATIONAL PEOPLE’S CONGRESS OF CHINA. China’s NPC Approves 13th Five-Year Plan, n. 1, p. 23, 2016. Disponível em: <www.npc.gov.cn/npc/zgrdzz/site1/20160429/0021861abd66188d449902.pdf>. Acesso em: 04 dez. 2016
10Em 2000, os subsídios dos EUA, União Europeia e Brasil, representavam, respectivamente, 22,66%, 32,87% e 5,73% de toda receita agrícola doméstica. Em 2015, essa porção alcançou 9,44% (EUA), 18,92% (EU) e 2,57% (Brasil). ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO (OCDE). Producer and consumer support estimates database. 2016. Disponível em: <www.oecd.org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm#country>. Acesso em: 1 dez. 2016.
11ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). United States files dispute challenging Chinese agricultural subsidies. 2016. Disponível em: <www.wto.org/english/news_e/news16_e/ds511rfc_14sep16_e.htm>. Acesso em: 1.º dez. 2016.
12MACDONALD, G. K.; BRAUMAN, K. A.; SUN, S., CARLSON, K. M.; CASSIDY, E. S.; GERBER, J. S.; WEST, P. C.. Rethinking agricultural trade relationships in an era of globalization. Bioscience, v. 65, n. 3, p. 275–289, 2015.